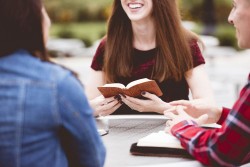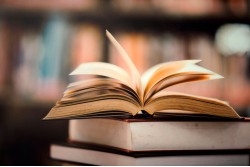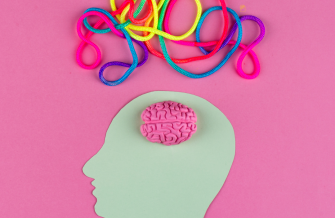Por
Profª. Dra. Cléo Palácio – Instituto CMP Palácio Desenvolvimento Humano,
Educacional e Profissional
Introdução
A
pergunta que atravessa séculos continua atual: o que é estar consciente e o
que permanece inconsciente? Entre a clínica psicanalítica e os achados das
neurociências, o debate ganhou novos contornos. No artigo “O inconsciente e
a consciência: da psicanálise à neurociência” (Psicologia USP, v.18, n.3,
2007), Carlos Eduardo de Sousa Lyra revisita a tradição freudiana,
dialoga com as críticas filosóficas de John Searle e integra proposições
neurocientíficas de António Damásio e Gerald Edelman. O resultado
é um mapa claro e provocador: compreender a mente exige ouvir a linguagem do
sujeito e observar o cérebro em ação — sem reduzir um ao outro.
O Projeto
Freudiano: entre neurônios e qualidades psíquicas
Lyra
parte do Projeto para uma Psicologia Científica (1895) para lembrar que
Freud já tentava articular bases neurobiológicas a fenômenos psíquicos. Freud
hipotetiza sistemas neuronais distintos (percepção, memória e consciência) e
enfrenta um velho impasse das ciências naturais: como explicar “qualidade”
subjetiva (o que se sente) com variáveis quantitativas? Ao aproximar percepção-consciência
do que depois chamaria de Pcpt.-Cs., Freud indica que a consciência é como
um “órgão sensorial” de qualidades psíquicas — uma pista potente para os
diálogos atuais entre clínica e neurociência.
Searle e a “redescoberta da mente”: consciência no
primeiro plano
No passo
seguinte, o artigo apresenta as críticas de John Searle ao uso
inflacionado do “inconsciente” que teria, segundo ele, ofuscado a
investigação da própria consciência. Para Searle, há um “naturalismo
biológico”: os fenômenos mentais são causados por processos
neurofisiológicos, e a consciência é intrínseca ao cérebro — sempre em
primeira pessoa. Ele diferencia o inconsciente “superficial”
(potencialmente consciente) de um “profundamente inconsciente” que, na
sua visão, não faria sentido intencional. Lyra pondera: a crítica de
Searle atinge melhor um inconsciente explícito e linguístico, deixando
aberta a necessidade de pensar um inconsciente implícito (pré-verbal,
não linguístico) com causalidade própria.
Damásio: self, mapas neurais e sentimento como
narrativa não verbal
Com António
Damásio, o texto mostra que é possível modelar consciência sem cair no
puro linguístico. Damásio descreve uma consciência central que nasce
da interação organismo–objeto, mapeada em redes de primeira e segunda
ordem; os sentimentos seriam relatos não verbais dessas
variações corporais. A partir de memórias autobiográficas (muitas implícitas),
emerge um self autobiográfico; depois, uma consciência ampliada
capaz de projetar passado e futuro. Aqui, Lyra conecta os pontos: há um
campo de experiências implícitas que sustenta o explícito, legitimando a
hipótese de um inconsciente implícito com efeitos clínicos.
Edelman:
valor–categoria, bootstrapping e consciência elaborada
Gerald
Edelman
distingue consciência primária (memória do presente, integração
perceptiva) de consciência elaborada (temporalidade estendida +
linguagem). Seu modelo evolutivo integra um sistema límbico-troncular
(valores, corpo, afeto) e um sistema corticotalâmico (categorização,
aprendizagem), conectados por circuitos reentrantes. Daí surgem memórias
de valor–categoria e, com o bootstrapping semântico, a linguagem
e o eu reflexivo. Lyra aproxima isso da psicanálise: a passagem do implícito
(procedural/emocional) ao explícito (linguístico) ecoa o recalque
originário freudiano e ajuda a situar sintomas em registros
diferentes.
Dois
inconscientes? Implicações clínicas propostas por Lyra
A síntese
do artigo aponta um quadro útil à prática:
- Há um inconsciente
implícito (psicossomático/pulsional), pré-verbal, ancorado em
memórias emocionais e procedurais;
- E um inconsciente
explícito (propriamente psíquico), linguístico, articulado a
memórias declarativas e às defesas do ego (memória de trabalho,
seleção, supressão e repressão).
Consequência
clínica:
- Quando o trauma se dá
antes da maturação hipocampal (fase pré-verbal), os registros
tendem a permanecer implícitos, aparecendo como angústias
intensas, pânico, somatizações. A técnica demanda construção de
sentido (síntese psíquica), não apenas interpretação.
- Quando o trauma é verbalizável
(fase posterior), a clínica analítica (recordar/ressignificar)
ganha potência, pois opera sobre memórias explícitas e defesas do
ego.
Essa
chave de leitura não opõe psicanálise e neurociência; ao contrário, ajuda
a escolher “como” trabalhar: construir quando faltam palavras; analisar
quando o simbólico já está em jogo.
Conclusão
O artigo
de Carlos Eduardo de Sousa Lyra nos convida a desarmar dicotomias.
O corpo sente, a mente significa, a linguagem dá forma e o sujeito emerge nesse
entrelaçamento. Há dores que pedem palavra; há dores que pedem presença,
vínculo, respiração e tempo, até que a palavra nasça. Integrar psicanálise
e neurociência não é diluir diferenças: é honrar a complexidade do humano.
No consultório, na escola e na vida, o gesto clínico cuidadoso começa por uma
pergunta simples e radical: o que aqui é implícito e o que já pode ser dito?
A partir daí, o cuidado encontra caminho.
Referência
LYRA,
Carlos Eduardo de Sousa. O inconsciente e a consciência: da psicanálise à
neurociência. Psicologia USP, v.18, n.3, 2007.
DOI: 10.1590/S0103-65642007000300004
Disponível em: https://www.scielo.br/j/pusp/a/W3yS8bkSnSnRzd3TFtZ4zcJ/?lang=pt
Acesso em: 28 out. 2025.
Texto
adaptado e comentado por Profª. Dra. Cléo Palácio – CMP Palácio Desenvolvimento
Humano, Educacional e Profissional.
Reflexão inspirada no artigo original de Carlos Eduardo de Sousa Lyra
(2007).